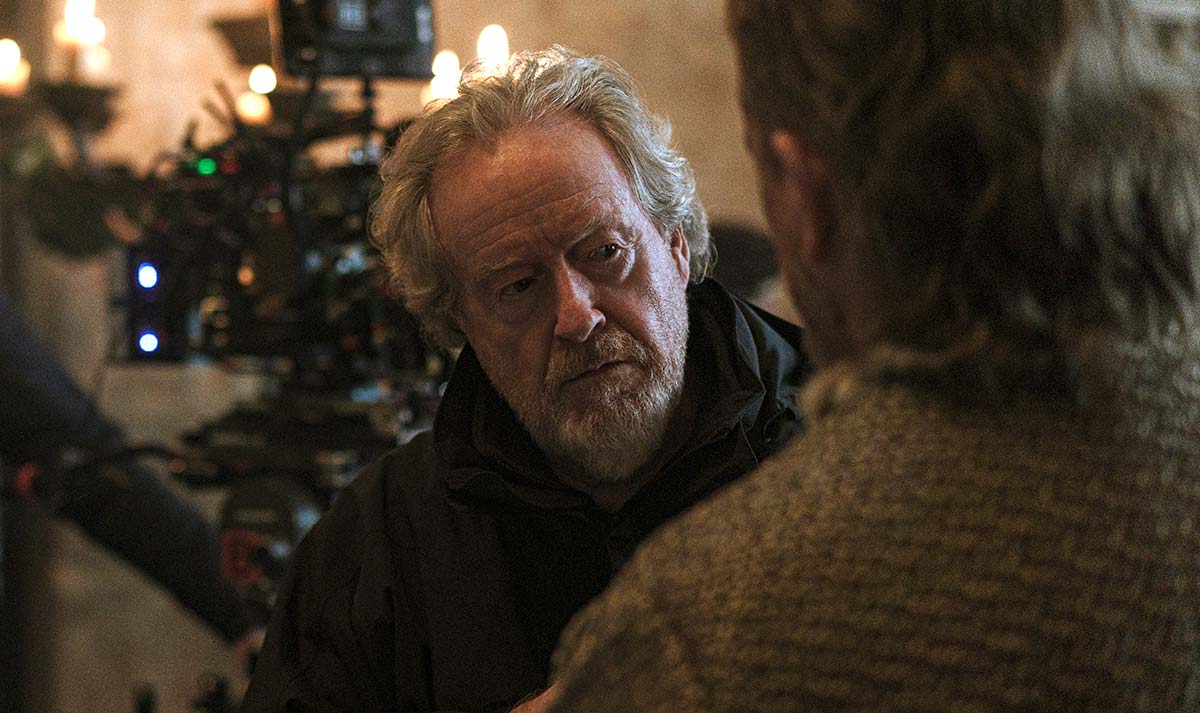Um clássico dos anos 90… que o próprio protagonista preferia esquecer
Para muitos espectadores, sobretudo os que cresceram nos anos 90, O Quinto Elemento é um daqueles filmes impossíveis de confundir com outro qualquer. Colorido, excessivo, delirante e assumidamente estranho, tornou-se um clássico do cinema de ficção científica. No centro desse delírio está Zorg, o vilão interpretado por Gary Oldman — uma personagem tão exagerada que parece saída de um desenho animado futurista. Mas aquilo que muitos fãs talvez não saibam é que Oldman passou largos anos a não conseguir sequer suportar o filme.
ler também : Quando a Loucura Encontra Ritmo: Joker – Loucura a Dois Estreia na Televisão Portuguesa
Apesar de uma carreira recheada de papéis aclamados, de heróis contidos a figuras históricas transformadas em prémios da Academia, Zorg continua a ser uma das personagens mais reconhecíveis do actor. E, paradoxalmente, uma das menos queridas por quem a interpretou.

Um papel feito em esforço… literal e figurado
Na altura das filmagens de O Quinto Elemento, Gary Oldman estava profundamente envolvido noutro projecto pessoal e exigente: a realização do seu primeiro filme. Para aceitar o convite, teve de interromper esse trabalho durante várias semanas, submeter-se a uma transformação física radical e entrar num universo visual que lhe era tudo menos confortável.
Cabeça rapada, próteses dentárias, cicatriz, perna a coxear, camadas de borracha e um guarda-roupa tão icónico quanto incómodo — tudo isto contribuiu para uma experiência que o actor descreveu, anos mais tarde, com pouco carinho. Embora reconhecesse o lado simbólico da história, centrada no eterno conflito entre o bem e o mal, Oldman nunca conseguiu ver o filme com o distanciamento necessário para o apreciar.

Durante muito tempo, quando questionado sobre O Quinto Elemento, a reacção era imediata e pouco diplomática: não conseguia vê-lo.
Um favor entre amigos, não uma escolha artística
A razão principal para Oldman aceitar o papel de Zorg não foi o argumento, nem o fascínio pela personagem, mas um sentimento de obrigação. O realizador do filme tinha ajudado a viabilizar financeiramente o projecto pessoal de Oldman, e o actor sentiu que devia retribuir.
O convite foi directo e pragmático. Não houve grande análise de guião, nem reflexão profunda sobre a personagem. Foi, essencialmente, um favor entre amigos. Isso ajuda a explicar porque é que, apesar da energia quase insana que imprime a Zorg, Oldman nunca sentiu que aquele papel lhe pertencesse verdadeiramente.
O contraste é curioso: para o público, a interpretação é memorável, quase camp, cheia de tiques e excessos deliciosos. Para o actor, é uma recordação associada a desconforto físico, interrupções criativas e uma estética que lhe provoca uma reacção visceral.
O tempo suaviza tudo… até Zorg
Com quase três décadas de distância, a relação de Gary Oldman com O Quinto Elemento mudou — ainda que de forma muito moderada. Hoje, já não rejeita completamente o filme. Consegue vê-lo, sobretudo quando alguém próximo insiste que talvez não seja assim tão mau.
O próprio actor reconhece que a sua avaliação está “contaminada” pela experiência pessoal. Para quem esteve dentro do fato de borracha, da maquilhagem e do processo, é difícil ver o resultado final como um simples espectador. Onde o público vê diversão, ele revê sensações físicas, ambientes de bastidores e decisões estéticas que lhe causam desconforto.
Curiosamente, nem sequer foi o único no elenco a sofrer com o guarda-roupa. O protagonista masculino também detestava parte do figurino, embora isso nunca tenha impedido o filme de se tornar um sucesso duradouro.
Um clássico que sobrevive apesar do seu criador relutante
Gary Oldman continua a ser um crítico feroz do seu próprio trabalho, e O Quinto Elemento não é caso único. Há outros filmes seus que o público adora e que ele prefere não revisitar. Ainda assim, o tempo parece ter feito o seu trabalho: hoje, o actor já não foge do filme, mesmo que nunca venha a adorá-lo.
ler também : Ano Novo, Filmes Novos: Duas Estreias Portuguesas para Começar 2025 com Cinema
E talvez isso seja suficiente. Afinal, nem todos os clássicos precisam do amor dos seus intérpretes para sobreviver. Alguns ganham vida própria — e Zorg, goste ou não Gary Oldman, é um deles.