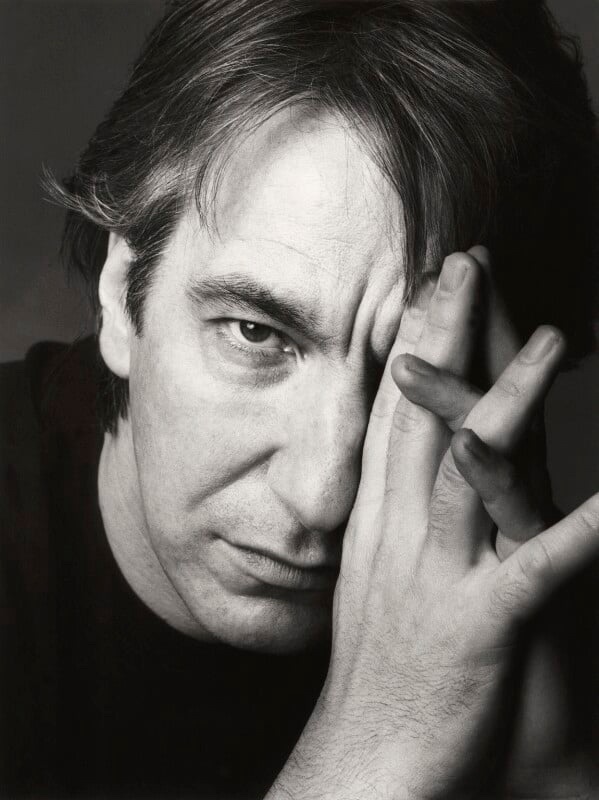27 anos depois, o universo gótico de Sleepy Hollow expande-se com uma história mais negra, violenta e centrada na vilã do filme
Vinte e sete anos depois da estreia de Sleepy Hollow, um dos filmes mais marcantes da colaboração entre Tim Burton e Johnny Depp, o universo do Cavaleiro Sem Cabeça prepara-se para regressar — mas de uma forma que poucos fãs esperavam. Não se trata de um novo filme nem de uma série televisiva, mas sim de uma prequela em banda desenhada que promete mergulhar o terror gótico em águas ainda mais sombrias.
A editora IDW Publishing anunciou o lançamento de Sleepy Hollow: The Witches of the Western Wood, uma minissérie de cinco números que chega às lojas a 6 de Maio, através do selo IDW Dark. A nova história irá explorar as origens de Lady Mary Van Tassel, a enigmática antagonista do filme, interpretada por Miranda Richardson na versão cinematográfica de 1999.
A origem de uma bruxa — e da sua ligação ao Cavaleiro Sem Cabeça

No filme original, Lady Van Tassel surge como a mente por detrás dos assassinatos que aterrorizam Sleepy Hollow, acabando tragicamente arrastada para o Inferno pelo próprio Hessian depois de o seu plano ser desmascarado por Ichabod Crane. A nova banda desenhada recua no tempo e revela quem ela era antes de adoptar essa identidade.
Segundo a sinopse oficial, a personagem chamava-se originalmente Sarah Archer e cresceu num ambiente marcado por abuso e negligência, aprendendo os caminhos da bruxaria ao lado da sua irmã gémea. O momento decisivo surge quando presencia a decapitação do temível Hessian, dando início a uma ligação sobrenatural que a transformará numa figura temida e poderosa.
Uma visão ainda mais negra do que o filme
A série é escrita por Delilah S. Dawson e ilustrada por Jose Jaro, dupla que promete levar o terror a um novo patamar. Dawson descreveu o projecto como um “sonho tornado realidade”, assumindo-se fã de Sleepy Hollow desde a sua estreia nos cinemas e de Tim Burton desde Pee-Wee’s Big Adventure.
De acordo com Riley Farmer, editora da IDW, a série foi desenvolvida com aprovação da Paramount Pictures, detentora dos direitos do filme, que deu liberdade criativa para explorar uma abordagem “mais negra e mais horrífica do que tudo o que Sleepy Hollow mostrou até hoje”. Uma promessa que deverá entusiasmar os fãs mais devotos do lado macabro do universo burtoniano.
Um universo que continua a crescer
Esta prequela surge depois de Return to Sleepy Hollow, uma sequela em banda desenhada lançada no ano passado, situada 15 anos após os acontecimentos do filme. Juntas, estas histórias estão a transformar Sleepy Hollow numa mitologia expandida, capaz de sobreviver — e prosperar — fora do cinema.
ler também: O Último Inverno em Park City: Sundance despede-se da sua casa histórica e do legado de Robert Redford
Para quem cresceu com o filme de 1999 e mantém um carinho especial pela sua atmosfera gótica, The Witches of the Western Wood surge como uma oportunidade rara de revisitar esse mundo sob uma nova luz… ou melhor, numa escuridão ainda mais profunda.