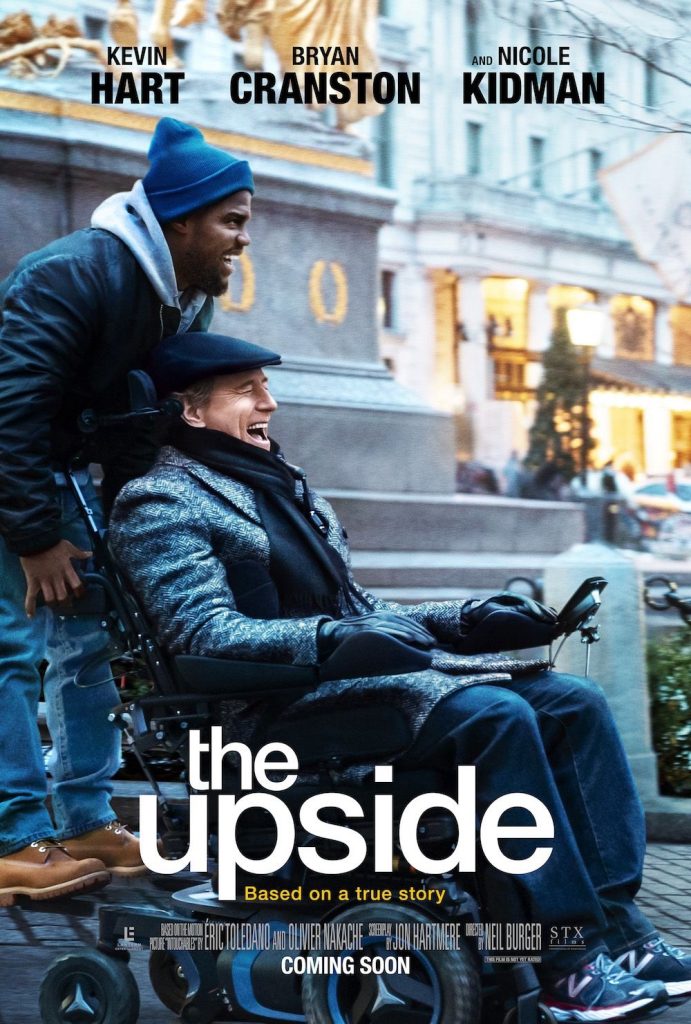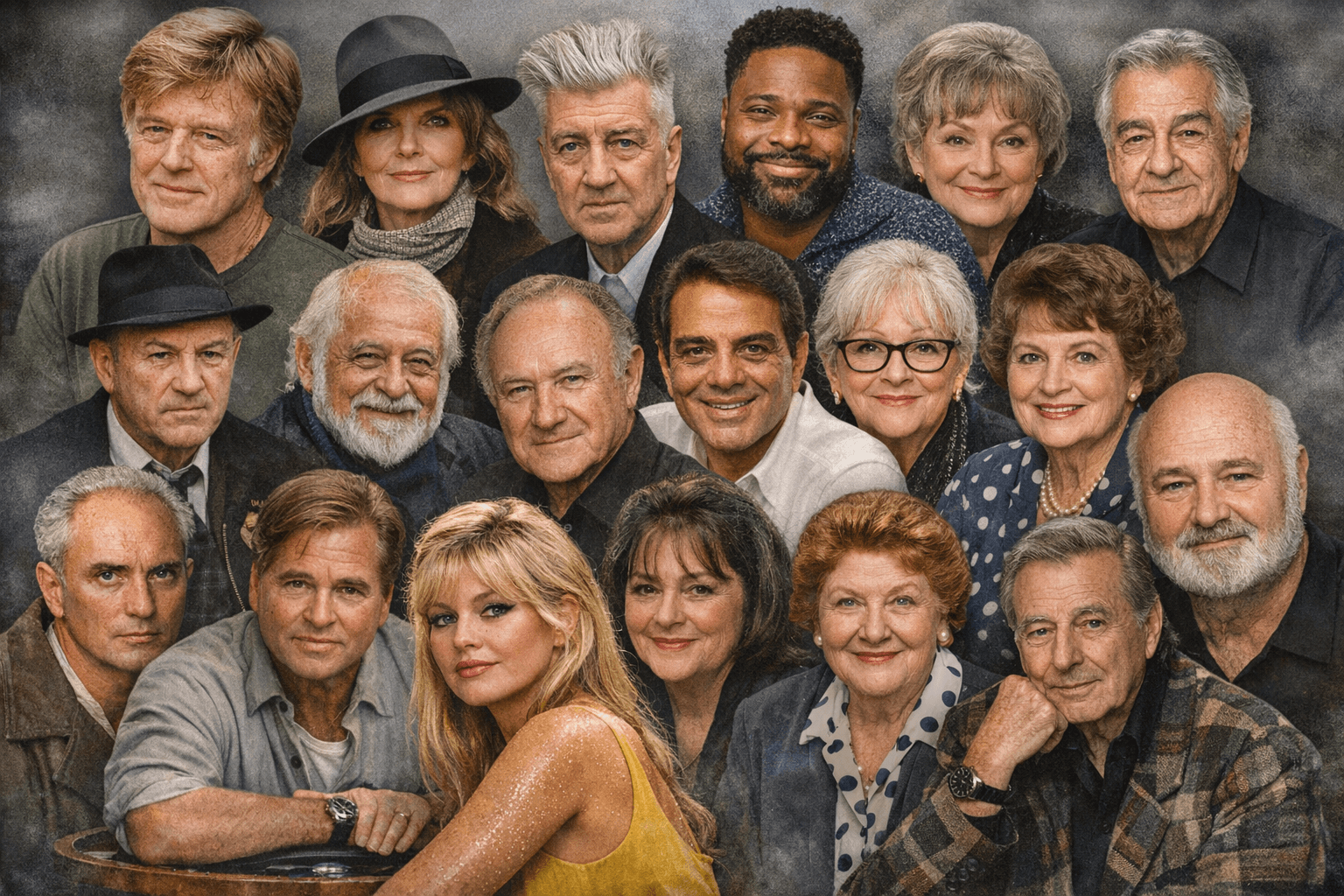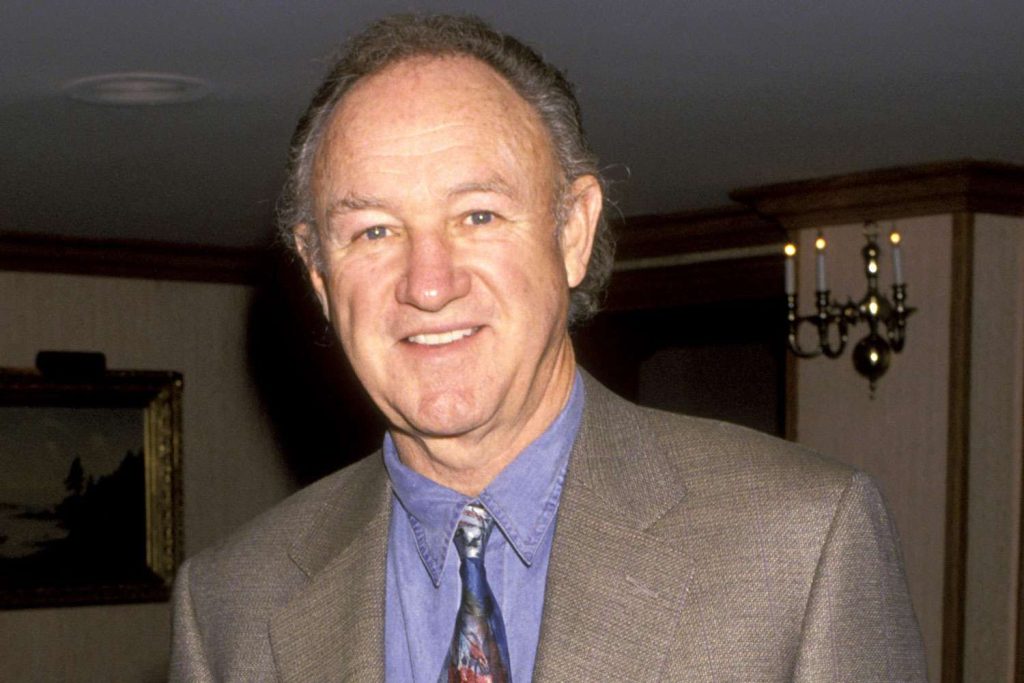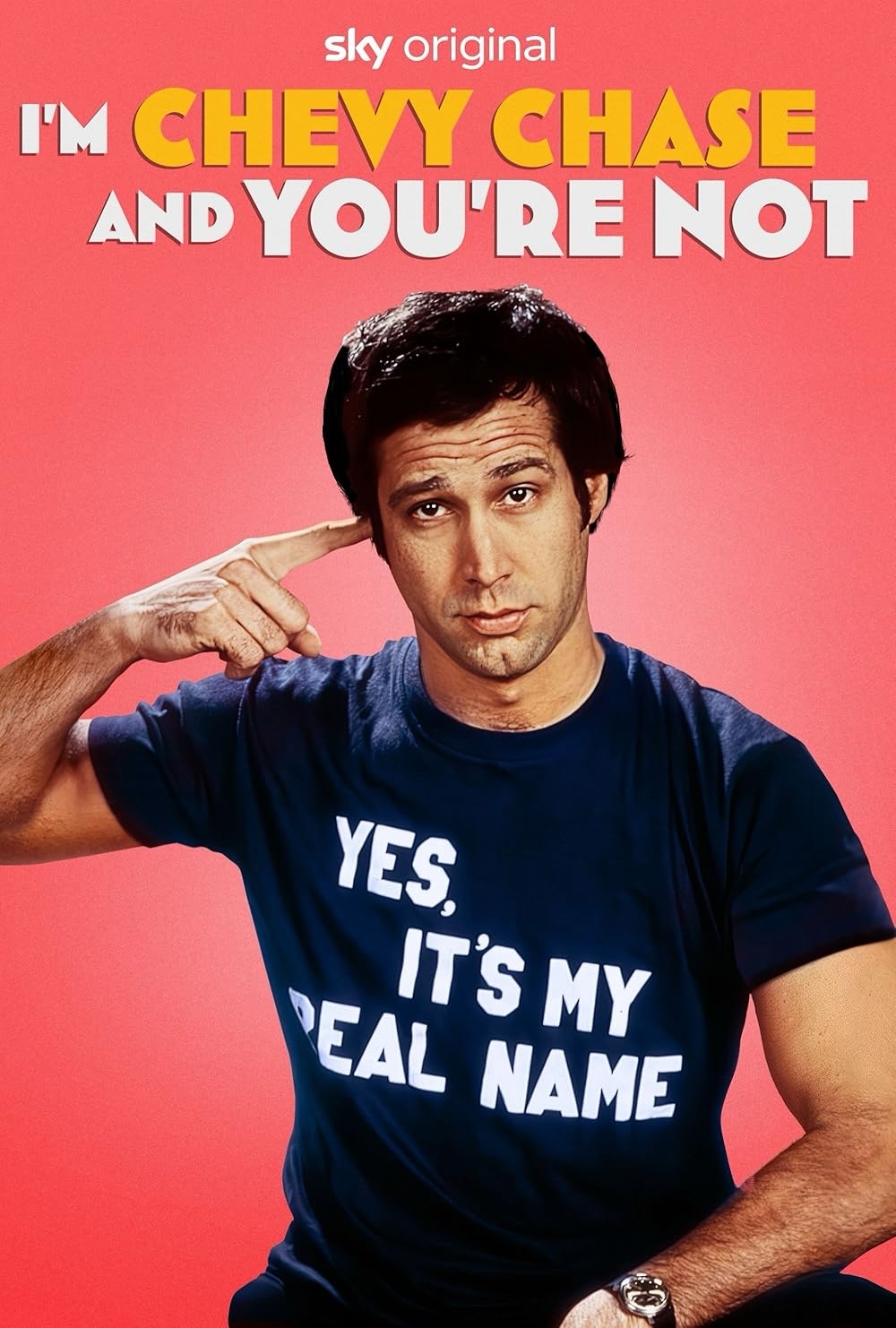Do estrelato súbito ao silêncio voluntário
Quando a segunda temporada de Stranger Things estreou em 2017, Dacre Montgomery tinha apenas 22 anos e via o seu nome espalhar-se a uma velocidade vertiginosa. A interpretação intensa de Billy Hargrove transformou-o num dos rostos mais comentados da série e num novo “vilão de culto” da cultura pop televisiva. Tudo indicava que Hollywood tinha encontrado mais uma estrela pronta a ser explorada até à exaustão. Mas Montgomery fez precisamente o contrário do esperado: saiu de cena.
ler também Morreu Béla Tarr, o cineasta que mudou o ritmo do cinema moderno
O actor australiano regressou a Perth, a sua cidade natal, e recusou praticamente todos os convites que lhe surgiram durante quase quatro anos. Um afastamento consciente, motivado por um desconforto profundo com a exposição súbita. Segundo o próprio, a fama trouxe uma fragilidade emocional para a qual não estava preparado, tornando necessário proteger-se antes que o sucesso o consumisse por completo.

Um telefonema inesperado de Gus Van Sant
Há nomes, porém, capazes de quebrar silêncios autoimpostos. Um deles é Gus Van Sant. Sete anos após o seu último filme, o realizador decidiu regressar com Dead Man’s Wire e escolheu Montgomery para um dos papéis principais, depois de ter visto — e ficado impressionado — com o famoso self-tape de audição do actor para Stranger Things, já lendário entre profissionais da indústria.
No filme, Montgomery contracena com Bill Skarsgård, num thriller inspirado num caso real de 1977, centrado no rapto de um poderoso banqueiro e no impasse mediático que se seguiu. Dead Man’s Wire estreia em salas seleccionadas e aposta num tom contido, desconfortável e deliberadamente provocador — características que o tornam um ponto de regresso simbólico para um actor que reaprendeu a ter paciência.

Um regresso feito de aprendizagem e limites
Trabalhar com Skarsgård revelou-se, para Montgomery, tão desafiante fora de cena como dentro dela. Conhecido pela sua intensidade quase obsessiva em preparação, o actor admite que tende a isolar-se durante as filmagens. O colega sueco forçou-o a quebrar essa barreira, lembrando-lhe que a acessibilidade emocional também faz parte do trabalho de actor. Uma lição inesperada, mas transformadora.
O afastamento de Hollywood permitiu-lhe redefinir prioridades. Longe do ruído mediático, Montgomery percebeu que não queria aceitar projectos por impulso, dinheiro ou visibilidade. Queria trabalhar com realizadores e personagens que justificassem o investimento pessoal total que coloca em cada papel. E isso mudou tudo.
O futuro longe da obsessão pela fama
Apesar do impacto que Stranger Things teve na sua vida, Montgomery olha para a série com gratidão e não com arrependimento, reconhecendo-a como um período formativo essencial. Ainda assim, deixa claro que a fama não é, nem nunca foi, o motor da sua carreira.
ler também : La Ruta – Conquistar a Noite regressa com uma segunda temporada ainda mais intensa
Recentemente, deu outro passo decisivo ao concluir as filmagens da sua primeira longa-metragem como realizador, um projecto preparado ao longo de uma década. Para ele, cada trabalho é encarado como se fosse o último — uma filosofia radical, mas libertadora. Se um dia se retirar definitivamente, fá-lo-á em paz, sabendo que nunca esteve ali por vaidade, mas por entrega total.
Não encontrámos data de estreia de Dead Man’s Wire confirmada para Portugal, mas sabemos que vai passar no LEFFEST em Lisboa algures entre os dias 6 e 15 de Novembro em Lisboa,